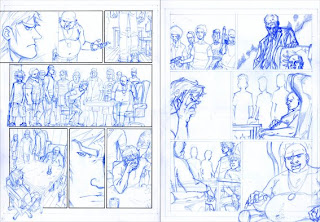Pedi a meus captores papel e pena, sob o pretexto de que precisava de atividade com que passar o tempo. Trouxeram-me resmas e algo que, embora não seja uma pena - é um tubo transparente, de material semelhante ao vidro, mas mais maleável, pelo qual passa um filete de tinta esverdeada - fere a página branca com suficiente eficiência. É com este material que traço as linhas e letras que passam diante de teus olhos, leitor, quem quer que sejas. Se é que, claro, algum dia leitores terei.
Prefiro crer que sim: afinal, de que vale a carta se não há destinatário? Todas as coisas devem servir a um fim fora delas mesmas, e todo trabalho deve servir a alguém mais, além daquele que o realiza: senão, tudo se torna mui pequeno, mui mesquinho. Portanto, leitor, permite-me imaginá-lo debruçado sobre a página, os olhos, ávidos, a percorrer a caligrafia que talvez te seja estranha, vinda d'outra época; quiçá, d'outro mundo. Imagino-te, leitor, e para ti escrevo. Peço-te, apenas, que me sejas gentil. Lê-me com atenção, e crê em cada palavra: nunca, digo-te, experiência humana como esta houve ou foi registrada nos fluxos da eternidade.
A Passarola III vinha avariada, depois do combate com as grandes e vorazes bexigas vivas a que os piratas do empíreo jupteriano atam cordame, gôndola e artilharia, convertendo-as em perigosas belonaves do éter superior. Minha única rota de fuga tinha que ser o flogístico, que é como chamamos, nos mundos do Continente, o fluido que azeita o Grande Mecanismo do qual as diferentes Realidades não são mais do que rodas, polias e engrenagens (imploro-te paciência, leitor; explicar-te-ei tudo, ou quase, no devido tempo).
Navegar o flogístico é uma ciência delicada; preparar a Passarola III para a transição, um processo demorado. São requeridas operações tais que nem mesmo Adamastor, meu criado eletromecânico, poderia tê-las realizado às pressas.
Ignorando minhas aflições (ou, possivelmente, saboreando-as) as bexigas jupterianas aproximavam-se. Bocarras redondas, coroadas de dentes, abriam-se ameaçadoramente. Mesmo com minha película atmostérmica e filtros nasais (nunca se pode ser cuidadoso em excesso, é o que sempre digo), sentia-lhes o cheiro vil.
Não havia, pois, como esperar que Adamastor cumprisse suas funções algébricas e metageométricas. Sem hesitação, puxei a alavanca e pisei no pedal.
A explosão dourada, tão tristemente familiar, engolfou-me por completo, obliterando toda massa, carga e sentido.
Quando meu coração finalmente voltou a bater, notei que havia céu azul sobre minha cabeça, e um oceano igualmente azulado abaixo de mim. Estava de volta à Terra, portanto: em Marte, os céus seriam vermelhos, e não haveria mar; em Júpiter, o céu era amarelo, em Saturno, turquesa; em Vênus, esverdeado.
Olhei para o mitômetro, mostrador do painel da Passarola III que indica as condições gerais da Realidade em que o veículo se encontra. Era um mundo, pude ver, mui semelhante ao meu, o que me trouxe não pequeno alívio; pois, embora algumas das condições naturais fossem diferentes (a existência de um empíreo etéreo superior, por exemplo, era duvidosa), em escala macroscópica tudo parecia se conformar ao necessário a minha sobrevivência.
Já o estado da Passarola III requeria cuidados imediatos: o balão de gás cavorítico vazava continuamente - dentro em breve, as válvulas de segurança ver-se-iam forçadas a expeli-lo de vez -, e o veículo estava já a perder altura. A vela de vento luminífero seria inútil: estávamos numa faixa densa de atmosfera, onde as ondulações do éter não teriam a força de que precisávamos. Pedi a Adamastor uma análise de quanto tempo ainda poderíamos permanecer no ar, e se havia algum porto seguro onde descer.
Ele indicou uma ilha que estaria dentro de nossas possibilidades de vôo. Estávamos, pelo que Adamastor me informava, a meio caminho entre o subcontinente indiano e a Terra Australis, ou Terra de Magalhães, como é chamada em alguns mundos.
Desativei, então, a película atmostérmica - uma bolha de ar respirável, gerada pela farda da Marinha Etérea Imperial, continuamente reciclada e mantida a temperatura constante por células de energia presas ao colarinho, punhos, tornozelos e cintura. Como eu já me encontrava na atmosfera da Terra, e em região de temperaturas amenas, decidi poupar as baterias do conjunto; além disso, o ar da película, a despeito de todo o esforço de reciclagem, encontrava-se um tanto quanto viciado - e, na Terra, seria possível trocá-lo por moléculas novas, frescas.
Em seguida, de acordo com as coordenadas fornecidas por Adamastor, girei o timão; e à tal ilha voltei a orgulhosa proa da Passarola III.
* * *
Era uma faixa quase retangular de rocha coberta por densa vegetação. Com duas exceções, apenas - ambas, os pontos mais altos da massa insular: ao centro, o que parecia ser a cratera de um vulcão adormecido (provavelmente, o pai da ilha); e, no extremo oeste, uma colina, ou desfiladeiro, talvez também de origem tectônica, que se erguia a quase noventa graus no lado que dava para o mar (e contra o qual explodiam espantosas vagas de espuma salina), mas que apresentava gradiente gentil na encosta voltada para o vulcão; entre um cume e outro, uma extensão de, talvez, cinco quilômetros, cobertos por árvores as mais frondosas.
A Passarola III passou em grande velocidade sobre esta paisagem, e portanto tudo o que vi foi em mero relance. Não obstante, pude divisar a fortaleza de rocha negra erguida sobre o desfiladeiro, e o que pareciam ser torres metálicas e cabos de aço ao redor da grande cratera.
A leste do vulcão a floresta continuava por mais dois ou três quilômetros, dando, em seguida, lugar a uma praia de areias brancas. Foi nessa praia, amigo leitor, que a Passarola III pôs fim à carreira de aventura e romance que de tamanha glória a cobriu.
Quando vi que o velame não seria suficiente para deter o ímpeto da nau, restou-me pouca escolha além de ativar os dissipadores de inércia; mas, desgastados pela batalha e pelos esforços anteriores, não puderam desfazer-se de toda a energia, canalizando-a pelas vias comuns, e a temperatura das vigas metálicas da gôndola subiu mais de uma dezena de graus no que me pareceu menos de um segundo: sorte não ter me queimado; sorte o madeirame interno, que é madeira pura, sem o tratamento especial do casco, não ter irrompido em chamas.
Mesmo assim, ouvi o trovão hediondo, o grito medonho da nau que entrega a alma ao éter; o som do mastro quebrado, do leme partido. Fui lançado de um extremo a outro da gôndola, como joguete; só não caí de bordo porque já havia deixado o convés de observação e retornado à cabina. Refeito, corri ao armário dos dinamógenos, para ver se ao menos parte do vetor suprimido havia sido aproveitada ali: nada! As armas estavam todas com meia-carga, as melhores, ou um quarto, a maioria. Deveria ter-me lembrado de ligá-las ao dissipador, para recarga; mas agora era tarde. Amaldiçoando-me a mim mesmo, peguei um dos mosquetes semidescarregados e passei a alça de couro pelo ombro.
Foi então que ouvi um estalo, como que de eletricidade estática, ao meu lado. Voltei-me: era Adamastor. Dois fios de luz eram tudo o que lhe ligava a cabeça - metálica mas revestida de pele polimérica rosada, e dotada de nariz, olhos cristalinos, boca e bigode - ao tórax de vidro inquebrável, dentro do qual apagavam-se, uma a uma, as pequenas estrelas verdes, vermelhas e azuis que eram os órgãos vitais do corpo artificial.
- Deus te leve, meu amigo - lembro-me de ter dito, sentindo o olho úmido e o coração, pesado.
Tal sensação de peso, sendo, como era, de caráter estritamente subjetivo, perdurou mesmo quando a imponderabilidade se apossou de mim, indicando que as válvulas de segurança tinham já expelido todo o gás cavorítico do balão e que portanto a Passarola III, definitivamente morta, entrava, então, em queda livre.
* * *
Os dissipadores de inércia devem ter conseguido canalizar a energia, ao menos em parte, para os sistemas de emergência: pois logo em seguida senti um golpe súbito que parecia erguer a nau, provavelmente uma golfada de ar quente produzida pela liberação energética. Durou muito pouco o impulso, porém: e logo em seguida precipitávamo-nos rumo às areias; minha última tentativa de erguer o nariz da nau apenas fez com que ela se desequilibrasse, perdendo altura mais rapidamente à ré.
O impacto me jogou diretamente para cima e a queda que se seguiu pôs minha fronte em contato direto com a lente de cristal neptuniano que cobria o mostrador do mitômetro. Foi sorte a dor ter-me feito fechar os olhos antes que os estilhaços voassem: do contrário eu não estaria a escrever, leitor, e sim a ditar.
O choque com o mitômetro fez com que minha cabeça fosse jogada para trás, atingindo em cheio o corrimão de bronze que separava o passadiço de instrumentação do restante da cabina. Então devo ter perdido os sentidos por alguns instantes, pois a imagem seguinte que me vem ao olho da mente é a da areia - areia em minha boca, em minhas mãos; areia grudada ao sangue que se me escorria da fronte e por sobre o nariz; areia, mesmo, nas narinas.
Eu estava prostrado na praia, os olhos voltados para a suave rebentação. Encontrava-me não sob o sol, mas à sombra. Sombra de quê? Virei-me devagar, com cuidado para não agravar nenhuma fratura que porventura me tivesse sido infligida. Então vi, com grande espanto, que me encontrava sob a popa da Passarola III que, com um dos cantos enfiado a fundo nas areias, assomava sobre mim num ângulo agudo, de não mais que sessenta graus. A proa, portanto, apontava para os céus a trinta; e seria um milagre que tão precário equilíbrio pudesse se manter por muito mais tempo.
Olhando para cima, vi, esmagada mas ainda presa ao batente por uma das dobradiças, a porta francesa que comunicava o passadiço com o convés de observação inferior. Tinha sido por ali, então, que meu corpo, arrancado da cabina pelo puxão inclemente da gravidade e amontoado como uma bola de pano, tinha passado para o lado de fora da nau, durante meu período de inconsciência. Se os postigos de combate tivessem estado fechados, ponderei, soturno, meu corpo, e não as portas, teria sido esmagado pela aceleração da queda. Sorte.
Mas a sacada de madeira do convés estava intacta: como eu teria passado por ela? Era improvável que o material, tratado para suportar os rigores do éter e das batalhas nele travadas, se partisse ante o peso de minha modesta pessoa. Grande mistério! Uma dor aguda na altura dos rins logo mo explicou, porém: eu me colidira contra a mureta a meio-corpo, e caíra em cambalhota sobre as areias. Como estava caído de bruços, encarando o mar, concluí que, com certeza, tinha sido uma cambalhota dupla.
Sorte não ter quebrado o pescoço.
Apesar dos pesares, considerei, estava a ter sorte demais. Escapara à morte por duas vezes consecutivas, e isso estando de todo inconsciente. Também escapara de perder as vistas no cristal, e de sabe Deus quantos outros perigos que me tinham passado despercebidos.
Sorte demais é mau sinal. Cedo ou tarde, paga-se por ela.
Neste caso específico, a cobrança veio precedida pelo som da aproximação de um número desconhecido de soldados.
Não os vi a princípio, é claro; eles se aproximavam pelo lado da floresta, e toda a gôndola da Passarola III assomava entre nós, ocultando-nos mutuamente. Mas há algo no caminhar de uma tropa - o ritmo dos passos, o ranger do couro, o tilintar das armas - que distingue facilmente o mover-se de um corpo de soldados de qualquer outro tipo de deslocamento humano; mesmo quando as botas pisam sobre folhas macias e areia fofa. Mesmo assim.
Eles não falavam. Tentei raciocinar como faria o comandante do destacamento: ele não sabia se algum dos ocupantes da nau teria sobrevivido à queda; ele também não saberia se, caso sobreviventes houvesse, quantos ou quais estariam conscientes ou em condições de se mover ou lutar, ou feridos, ou agonizantes.
O silêncio verbal dos soldados atingiu-me, portanto, como uma coisa má: afinal, se aquela fosse uma missão amistosa, ou de resgate, eles provavelmente estariam a oferecer algum tipo de saudação. A quietude contumaz poderia ser traiçoeira ou cobarde; não havia nada de bom nela.
Caído à minha direita estava o mosquete dinamógeno que eu retirara do armário antes que a queda da Passarola III. Arrastei-me até ele (a dor em meus rins já diminuía, e não acreditava ter quebrado nenhuma costela), peguei-o; senti o bolso da calça de minha farda em busca da baioneta embainhada. Encontrei-a. Ao lado do mosquete, vi, entre surpreso e compungido, a forma oval cabeça de Adamastor. Por um instante pensei se não seria correto enterrá-la na areia, com os ritos apropriados e uma prece; mas a cabeça era feita de metal, metal rijo e pesado, e o contorno não era de todo desprovido de propriedades aerodinâmicas. Ela faria uma arma desajeitada, é verdade, mas com o mosquete a mera meia-carga, quem sabe a que eu não seria forçado a recorrer?
Além do mais, talvez ainda existissem dados úteis armazenados ali; era improvável que as leis físicas do Universo em que eu me encontrava fossem do tipo a permitir a reconstrução da Passarola III, mas... quem sabe?
Assim, após enfiar a cabeça metálica dentro do blusão, voltei-me para a esquerda, por onde se espraiava, em ondas rijas, fixas, algumas com mais de metro de altura, a massa de tecido que compusera o balão da nau.
Esse invólucro vasto, negro e lustroso tinha sido componente importante em minha opção de fazer a Passarola descair na praia, e não ao oceano (onde o impacto talvez tivesse sido menor, e onde a gôndola poderia, por si só, flutuar): feito da fibra das vesículas pigmentares de polvos mercurianos, o pano, desinflado do gás cavorítico e privado, portanto, do salutar efeito das radiações antigravitacionais nele acumuladas, possuía densidade superior à do urânio metálico inerte. Massa específica, essa, que nos teria arrastado diretamente ao fundo.
Mesmo em águas rasas, a diferença brutal de densidade entre o material da gôndola e do invólucro vazio teria feito com que Passarola III adernasse violentamente, com o invólucro cortando através do leito macio de areia molhada como mercúrio na água; e a ironia do afogamento na praia, a cara pressionada contra a lama salgada pelo peso de colunas e mastros, os cabelos lambidos por ondas minúsculas, a poucos centímetros do ar fresco, não é uma que a mim me apele grandemente.
Em seu mundo natal, o polvo mercuriano nada em oceanos de rocha fundida, e respira urânio e chumbo em estado gasoso como nós outros respiramos o doce oxigênio; seu couro é a mais perfeita blindagem, e suas vesículas formam o tecido ideal para a contenção do gás cavorítico e de seus efeitos e radiações, alguns dos quais, nocivos à vida humana.
Agora, metros e mais metros de tecido vesicular ultradenso ondulavam, rijos como rocha sólida e causando profundos sulcos na areia, à esquerda da gôndola. Destarte, foi usando a massa revolta e convoluta do velho balão como cobertura que me esgueirei, mosquete em punho e baioneta calada, até uma posição da onde pudesse ver melhor quem eram os soldados que se aproximavam sem proferir palavra alguma.
Que homens seriam esses?
A resposta é que não eram homens, em absoluto. Não sou um simiólogo, mas me parece que fossem babuínos: grandes macacos alourados, do tamanho de homens e dotados de cauda comprida, focinho longo, azulado. Vestiam calções negros que lhes desciam até a altura dos joelhos, carregavam armas semelhantes ao meu mosquete - mas que, logo reconheci, eram rifles de percussão - e, sobre os peitos cobertos de pêlos, traziam cinturões cruzados de cápsulas douradas que, supus, eram a munição dos rifles. Contei quinze desses símios.
Não calçavam botas: o som que eu confundira com o de coturnos militares era produzido pela espessa almofada de couro dos pés nus. Não usavam chapéu, quepe ou capacete.
Por um instante temi ter-me materializado em um dos mundos simianos ou ferais, onde homens e mulheres são caçados por esporte, e escravizados. Mas, tão logo surgiu, a idéia se me desvaneceu: nas civilizações símias, a carreira militar é relegada aos gorilas; nas ferais, aos grandes felinos. Os babuínos deveriam ser, portanto, emissários de algum poder humano.
Ou talvez eu estivesse em um mundo feral ainda não-cartografado. Mais do que desespero, a idéia me encheu o peito de cansaço, como se meu coração tivesse estado a bater em ritmo tresloucado pelos últimos milênios, e por fim nada mais se lhe importasse. Senti, pela primeira vez, creio, o tedium exploratório - a profunda fadiga d'alma que atinge o veterano aventureiro quando a perspectiva de perigos e descobertas não mais estimula, e sim enfastia.
Removi a cabeça de Adamastor de seu refúgio em minha farda e encarei os olhos mortos:
- Velho amigo! Quanto eu não daria - falei, ciente de que a cabeça artificial nada mais escutava, ciência que só ampliava o patético do momento - para ter-te ao meu lado. Ou, ao menos - emendei, sorrindo com certa amargura -, para conseguir acesso a teus bancos de dados.
Os babuínos armados já haviam quase que circundado toda a área marcada pela queda da Passarola III. Eu teria que agir rápido, se não quisesse ficar espremido entre o mar, às costas, e o cordão de feras armadas à frente e aos flancos. A primeira coisa a fazer era determinar a missão e as intenções das criaturas; não só pelo imperativo ético de não abrir fogo contra seres que, talvez, estivessem em busca de sobreviventes para oferecer-lhes socorro, como também por motivos mais práticos: numa situação de patente desvantagem numérica, qualquer mal-entendido seria certamente fatal - para mim.
- Ser-me-ás útil, afinal - sussurrei para Adamastor. - Cumprirás papel inestimável em fundamental missão de reconhecimento.
Apoiando o melhor possível a cabeça metálica na ponta da baioneta, ergui-a, de forma conspícua, para além da proteção das vesículas mercurianas. Ela seria avistada, e provavelmente tomada pelo apêndice pensante de um homem. Como reagiriam os macacos?
Creio ter ouvido o som da bala ricocheteando da testa de Adamastor antes, mesmo, da explosão de pólvora ocasionada pelo tiro. O oval metálico, agora marcado por uma pequena depressão circular no centro da testa rosada - algo como a órbita rasa de um terceiro olho - caiu na areia à minha direita.
Os babuínos gritavam. Outros tiros se seguiram ao primeiro mas, como novas cabeças não se apresentavam ao sacrifício, os rifles logo silenciaram.
Os passos agora eram mais audíveis, mesmo sobre a areia: corriam. Eu lhes podia sentir a agitação, o imperativo sanguinário, a expectativa da matança substituindo, num estalo, o maravilhamento respeitoso pelas linhas majestosas da Passarola III, a apreensão inicial. Mesmo sem vê-los (pois me mantinha oculto por trás do balão desinflado), imaginava-lhes as grandes bocas a salivar.
- Como sempre, traze-me más notícias, criatura execrável - falei a Adamastor, ao mesmo tempo em que ajustava o mosquete dinamógeno para uma rajada contínua de calor concentrado.
Em seguida enterrei a cabeça na areia, o mais fundo que pude. Eu não teria como carregá-la comigo durante uma situação de combate franco (que se avizinhava) e resolvi, portanto, tratá-la como fariam os piratas d'antanho.
A rajada energética que eu havia programado no mosquete iria esgotar a carga total da arma em cerca de vinte segundos, não mais, talvez menos, mas se os projéteis que os símios carregavam em faixas sobre o peito contivessem pólvora - o que me parecia provável - a alta temperatura produziria efeitos mais do que interessantes.
Naquele momento, enquanto eu acreditava ter formulado um plano perfeito, a desvantagem numérica não me incomodava em nada. Realmente cheguei a pensar que teria chances objetivas de vencê-los.
Então me levantei e, pressionando o gatilho, tracei um semicírculo de energia térmica no ar. Essa primeira onda durou três segundos, não mais, e eu havia calculado a altura de forma que ela interceptasse os babuínos na altura do plexo solar, onde as duas faixas de munição, lançadas por sobre os ombros, cruzavam-se.
As explosões logo tiveram início.
Excitada pelo calor de um disparo, a pólvora no interior de cada uma das cápsulas atingidas pelo raio do dinamógeno explodia, detonando o projétil correspondente; minha esperança era de que o processo, uma vez iniciado, ganhasse vida própria, numa espécie de reação em cadeia, e que os babuínos, dessa forma, se transformassem em verdadeiras granadas vivas - letais para si mesmos e para os companheiros mais próximos.
As explosões tiveram início, mas logo cessaram.
- Merde! - sussurrei, soltando o ar abrasador por entre os dentes cerrados.
Eu não havia contado mais do que três explosões. Isso significaria, no máximo, três babuínos mortos ou seriamente feridos (talvez um deles tivesse sofrido mais de uma explosão; talvez, um deles tivesse sofrido todas as três!).
Comecei a correr em busca de uma posição melhor; era inevitável que um dos símios, pelo menos, tivesse visto a mim ou ao cano do mosquete. Por um instante considerei a possibilidade mergulhar no oceano (onde a película atmostérmica poder-me-ia manter vivo, sob a superfície, por um período razoável) mas descartei a idéia: a água junto à praia era rasa demais, e até chegar a uma profundidade razoável eu seria um alvo perfeito.
A tropa de babuínos não tinha ficado parada, tampouco. Com as explosões, os símios também haviam saltado em busca de cobertura, comunicando-me mediante complexas seqüências melódicas, feitas de silvos e estalos de língua, proferidas em ritmo histérico. Existiam dunas e trincheiras na areia da praia, a massa semi-enterrada da gôndola da Passarola III, e a massa do grande invólucro de vesícula mercuriana, que a cada instante enterrava-se um pouco mais no terreno macio. Se eu me escondia nela, por que não eles?
Foi ao olhar para o invólucro, tão semelhante a uma formação de rocha antiga e emaciada, que tive a idéia para o que poderia ser minha última chance: um pináculo em meio ao tecido - não uma onda ou saliência como as que eu usava para me esconder, mas um ponto realmente alto, erguendo-se à altura aproximada de um homem, numa vertical perfeita. Não havia apoio possível; era óbvio que a vesícula, ali, não se sustentava sobre dobras de si mesma, como nos demais casos.
A única explicação seria a presença de uma bolha de gás cavorítico. Como já disse, tal gás tem propriedades antigravitacionais, e é radiativo. Ele se dissipa rapidamente, no entanto, e quando livre numa atmosfera do tipo terrestre logo se combina a outras substâncias, neutralizando-se. Mas, a curtas distâncias, o efeito sobre tecido vivo desprotegido seria... Como se diz? Horrível demais para se contemplar?
É por isso, deveras, que válvulas especiais tratam de expeli-lo para a atmosfera assim que o estado de uma nau é tido como irrecuperável; às vezes, no entanto, as válvulas simplesmente não operam contento, ou entopem-se. A bolha sob o invólucro devia-se, provavelmente, a tal caso.
Uma descarga total, concentrada em uma fração de segundo, de tudo o que me restava de energia no dinamógeno poderia perfurar a crosta da vesícula. Então, se o gás escapasse enquanto os babuínos estivessem por perto...
Era uma oportunidade em um milhão, mas e daí? Seria melhor do que esperar que os símios fizessem fila, para que eu pudesse matá-los a todos com um único tiro.
Claro que, para atraí-los até as proximidades do bolsão de gás, eu teria de me expor. Fazer-me de isca em minha própria armadilha; bem me servia isso: uma pequena vingança da alma mecânica de Adamastor?
Eu ouvia a estranha música que faziam os símios - eles não tinham parado nem por um segundo, desde as explosões - e ela me fornecia uma idéia razoável da posição de meus adversários. Tive certeza de que, se me pusesse em pé onde exatamente onde estava, seria visto. Sim. Visto, com certeza. Possivelmente alvejado, também.
- Com a breca! - disse a mim mesmo, com o cuidado de falar baixo, muito baixo. - Que tens? Queres viver até o Dia do Juízo?
Respirei fundo, prendendo o ar no peito. Em seguida levantei-me, saltei e corri, movendo-me na direção geral da bolha de gás.
Minha súbita explosão de energia atlética foi saudada por uma salva de canhões - rifles, na verdade, mas confesso-te, a mim não me fazia diferença - da qual contei quatro disparos. Mais dois se seguiram assim que atingi o solo e, enquanto rolava para trás do ponto para onde queria atrair os babuínos, senti uma ferroada na nádega direita.
- Merda! - falei, desta vez sem me dar ao trabalho de usar um idioma elegante; ou de falar baixo, a propósito. Pus a mão ao rabo; o toque ardeu um bocado, e a palma me voltou vermelha de sangue.
Havia mais dois buracos de bala em minha farda - um na dragona do ombro direito, que encontrei, além de perfurada, esmagada, outro no bolso da coxa esquerda, mas em nenhum dos casos tinham-me atingido de fato. Obriguei-me a inspecionar novamente a incômoda ferida, desta vez pondo o nó de um dedo da mão esquerda na boca, para calar quaisquer novos protestos (eu queria atrair os babuínos àquela posição, mas não os deixar desconfiados).
Novas (e dolorosas) apalpadelas revelaram-me que a bala havia perfurado um pequeno trecho da nádega, entrando e saindo sem causar maiores danos. O furo que havia deixado era paralelo à coluna vertebral, e se eu não tivesse mantido a cabeça baixa enquanto rolava o projétil ter-se-ia alojado atrás de minha orelha direita, após deixar o glúteo.
Bem, ao menos para algo serviram as instruções do sargento.
Depois de limpar a mão ensangüentada na perna da calça (e mantendo-me de cócoras, já que sentar seria impensável) recalibrei o mosquete para uma rajada final, capaz de perfurar a vesícula mercuriana e libertar o gás radiativo nas fauces de meus inimigos. Eu os ouvia a se aproximarem.
Esgueirei-me até uma distância segura, rezando para que meu rastro de sangue não fosse muito evidente em contraste com a substância escura do invólucro. Finalmente cheguei a um ponto onde o gás não me poderia fazer mal, e da onde eu seria capaz de efetuar o disparo do dinamógeno sem maiores dificuldades.
Agora, era esperar e esperar. Os babuínos tinham de estar perto. Muito perto. Se estivessem em fila, eu gostaria de vará-los a todos com um único tiro. Mas não; eles viriam em semicírculo. E, quando a formação de estreitasse...
- Parem!
O grito veio em voz de mulher; falava inglês.
- Parem, eu já disse! - continuou o som feminil, vindo da floresta além da praia. - Papai não lhes ensinou nada? Senhor náufrago, o senhor está bem?
- Estou ferido - falei em inglês, depois de ponderar que, caso a dama estivesse a tentar algum truque, minha resposta serviria para atrair mais uma figura pérfida para dentro do raio de ação do gás.
- Feriram-no! Monstros! Perversos! Baixem as armas. Soltem as armas, eu já disse!
Em meio a grunhidos, as feras obedeceram, ou fingiram obedecer: ouvi, distintamente, um som que poderia ser o de rifles depostos.
- Senhor náufrago, o senhor está seguro, agora - continuou a voz de mulher; sua dona já teria deixado a floresta, mas eu ainda não podia vê-la. - Por favor, saia. Para que possamos cuidar de seus ferimentos.
- Venha até aqui - falei, continuando a usar o inglês. - Por favor. Não sei se consigo andar.
Era uma mentira, mas eu queria todos ao alcance do gás; era preciso.
- Oh, pobre senhor... Vocês, monstros fiquem aí!
- Não! Traze teus... mascotes?
- O senhor não os teme?
- Só às armas que carregam.
- Queres tê-los perto de ti? Por quê?
Boa pergunta! Para matá-los a todos, é claro. Mas eu não diria isso. Assim, inventei uma rápida resposta:
- Sou um cientista...
- Ah!
A cada troca de palavras, a voz de menina-moça soava mais perto. E, agora, uma figura loura, de cabelos curtos, mas cheios, e grandes olhos azuis, vestindo uma túnica simples (nada mais que uma folha dobrada de pano branco que lhe passava por sobre o ombro esquerdo, mantendo o direito nu, e cingida à cintura por um cordão dourado) aparecia junto ao pináculo onde estava a bolha de gás, junto à armadilha letal.
Não teria mais de quinze anos, essa menina, mas era bem desenvolvida para a idade: a túnica que vestia marcava-lhe bem os contornos, enquanto mantinha os tornozelos nus.
- Senhor! - ela gritava. - Onde o senhor está? Está bem?
Havia preocupação legítima naqueles olhos, úmidos que estavam com lágrimas de apreensão pelo bem-estar de um completo estranho. Atrás dela vinhas os babuínos, em número de nove, e desarmados. Estavam todos ao redor do pináculo. Eu ainda não tinha sido visto, e agora me mantinha em silêncio.
Preparei o mosquete, e atirei.
A rajada de energia subiu em direção ao sol e dissipou-se na atmosfera.
O mosquete, ponderei, era grande demais para que pudesse ocultá-lo em minhas vestes; e certamente não seria sensato apresentar uma arma de tal poder a pessoas (ou feras) cujas intenções ainda me eram desconhecidas.
Descarregado, o dinamógeno reduzia-se a uma casca inútil, exceto pela baioneta, que tive o cuidado de retirar e guardar, o melhor possível, num bolso interno de minha farda. Em seguida joguei o mosquete de lado e arrastei-me para fora do esconderijo, dizendo:
- Brigadeiro-general Cesário Antonino de Albuquerque e Magalhães Corvo - falei, com uma rápida continência, como é devido às damas. - A seu serviço, senhorita.
* * *
No final, a tática de usar rajadas de calor contra as cintas de munição dos símios tinha sido muito mais bem-sucedida do que eu me permitira esperar: embora realmente só três detonações tivessem sido produzidas, outros três babuínos, além das vítimas diretas, haviam perecido, atingidos por fragmentos de lata e chumbo; e outros quatro, ainda, haviam sofrido queimaduras graves em virtude do raio térmico. Dos nove que atenderam ao apelo da senhorita apenas cinco, portanto, ainda se mantinham em condições plenas de combate.
Condições em que, confesso, eu mesmo não mais me encontrava. Por um lado, a dor nos rins que me incomodara tanto quando do desembarque na ilha parecia disposta voltar, ou era eu que voltava a me lembrar dela, depois da excitação da refrega. Isso além do ferimento a bala que, a despeito de seu caráter (e sou o primeiro a afirmá-lo) quase cômico, causava não pequeno desconforto.
Atendendo a ordens expressas da jovem dama (senhorita Melissa McMurdock, disse-me), cinco símios saudáveis retornaram à floresta e dali extraíram material, galhos, cipós e folhas, para uma padiola, que prontamente se puseram a montar.
- Já que faltaram com a hospitalidade ao chegardes, agora irão demonstrá-la, carregando-vos, sem queixumes, até o castelo - sentenciou a pequena beldade. Eu, de minha parte, só podia sorrir em agradecimento.
Tive de me deitar de bruços sobre a esteira, o que não deixava de ser um incômodo - mas um menor do que seria caminhar toda a distância. Para grande embaraço meu, a senhorita McMurdock quis examinar-me a ferida. Pensei em protestar, mas sabia que, vexatório ou não, o procedimento seria de grande valor - a jovem dava-se ares de figura instruída nas artes médicas.
- Não se trata de nada grave - ela informou, enquanto eu sentia minhas fauces rubras como a casca do pimentão - mas vou aplicar um antisséptico e anestésico.
Ela deu mais algumas ordens aos símios (comunicava-se com eles num código de silvos e estalos semelhante, mas não exatamente igual, ao idioma que as feras usavam entre si) e dois deles, em obediência, desapareceram na floresta. Retornaram trazendo um pedaço de casca de árvore, uma flor amarela e duas folhas azuladas em forma de coração. A senhorita McMurdock pôs as folhas e a flor na boca, mascou-as e cuspiu a pasta verde, assim formada, sobre a polpa da casca. Em seguida, com os dedos delicados, passou a aplicar a pomada no buraco de bala.
Meu embaraço não tinha fim, mas nada disse; a cor de meu rosto devia já ser declaração suficiente.
Então, quatro dos símios levaram à liteira e a mim aos ombros e, com a menina-moça caminhando ao meu lado, iniciei viagem rumo ao castelo localizado no extremo oposto da ilha.
Havia uma estrada de terra batida, bem conservada, percorrendo o caminho. Ela era invisível do céu, encoberta que estava pelas copas das árvores. No percurso, extraí alguma informação da menina-moça. Perguntei-lhe quando tinha nascido e quantos verões testemunhara, o que me permitiu deduzir que, nesta Terra, corria o ano de Nosso Senhor de 1878.
Ela me informou, também, que a ilha em que nos encontrávamos era de propriedade de seu pai, o doutor Malcolm McMurdock, cidadão britânico, e que os soldados e serviçais símios eram produto de alguns experimentos antigos desse cientista; mas que agora ele se dedicava a outro tipo de pesquisa, cujo desenvolvimento prático dava-se junto à cratera do vulcão local. Nem a ilha nem o vulcão tinham nomes; eram conhecidos, no mundo exterior, apenas por suas coordenadas geográficas.
- Mas papai chama a isto tudo de Melissândia - ela falou, sorrindo. - É muito doce da parte dele.
- Se ele é o proprietário, então "Melissândia" será - concordei. Ela riu.
Aos poucos, passei a sentir-me sonolento. Minha viagem não era exatamente confortável, sujeito que estava ao ritmo e aos percalços do passo, francamente simiesco, de meus carregadores; mas ainda assim uma sonolência irresistível desceu sobre mim. Talvez as propriedades anestésicas do preparado aplicado pela senhorita à ferida tivessem algo a ver com isso; mas o fato é que, com o som melodioso da palavra "Melissândia" ainda em meus ouvidos, adormeci.
* * *
Acordei deitado em um divã, no centro de uma enorme biblioteca. Não vestia mais minha farda, e sim um traje de noite - casaca e gravata borboleta. Estava, portanto, privado da película atmostérmica e da baioneta, minha última arma. Esse pensamento cruzou-me a mente como um raio, mas busquei não demonstrar alarme em minha expressão ou gestos, pois ou havia outra pessoa comigo.
Era um homem maciço e hirsuto, de ventre arredondado e barbas que pareciam nascer-lhe quase que imediatamente baixo das pálpebras e desciam ao peito. Suas sobrancelhas teriam a espessura de um polegar, e seria realmente notável o talento do barbeiro capaz de pôr ordem à cabeleira desgrenhada; as costas das mãos que apreciam sob os punhos da casaca também revelavam uma cobertura profusa e generosa. Todos os pêlos eram ruivos, de um tom quase alaranjado que a mim me doía nos olhos contemplar.
O homem sentava-se junto a uma escrivaninha, e lia. O som e meu corpo a mover-se sobre o divã, fazendo estalar a almofada de couro, atraiu-lhe a atenção.
- Bem-vindo à ilha de Melissândia - ele disse, falando no idioma inglês. - Sua ferida fechou-se de forma espetacular. O senhor apresentava, ainda, sinais de hemorragia interna na área do abdome, mas isso também desapareceu.
Apenas assenti com a cabeça. Nós, da Marinha Etérea Imperial, somos preparados e treinados de forma a termos recuperação rápida de praticamente todo tipo de ferimento - desde que, é claro, contemos um mínimo de tempo e repouso. Mas não vi motivos para informar meu misterioso anfitrião desse fato.
- De qualquer forma - continuou o homem ruivo - devo me desculpar pelo comportamento afoito de meus simiomens; criei-os há anos, já, ainda não fui capaz de tirar-lhes das mentes a excitação da matança, o frenesi da caça. O babuíno é, por natureza, um macaco que pratica a caça e a mutilação de pequenos animais, para fins alimentares; o homem, no entanto, é o único primata que caça por prazer. Ou era: imagino se meu esforço em conceder alguma inteligência àquelas criaturas não teria... Mas, senhor, perdoe-me: estou a divagar e a esquecer as boas maneiras. Meu nome é Malcolm McMurdock, doutor em medicina e teologia, e bacharel em ciências. O senhor está em minha casa onde é, repito, bem-vindo. Foi minha filha quem o encontrou à praia. E o senhor, pelo que pude compreender do que Melissa mo disse, tem algum tipo de patente militar... ?
- Meu nome é Cesário Corvo, e tenho a honra de ser brigadeiro-general na frota marítima de um grande império cujo nome não tenho a liberdade de divulgar, no momento - respondi, sem saber, ainda, quanto da verdade seria prudente revelar. A existência de diferentes estruturas de realidade, ou mitosferas, que flutuam como bolhas no fluido durado e metadimensional do flogístico, é um dado desconhecido em muitos universos; afirmá-lo em certas partes pode dar margem a acusações de loucura, ou heresia.
- Imagino que o estranho balão que o trouxe aqui seja parte de algum experimento secreto de seu governo, portanto?
A bem da verdade, em meu universo de origem veículos como a Passarola III são tão comuns quanto os iates à vela na Terra do doutor McMurdock; mas eu não lhe diria isso e, portanto, limitei-me a sorrir, dando de ombros.
- O brigadeiro compreende - continuou McMurdock - que é meu dever comunicar o ocorrido às autoridades britânicas?
- Cada homem deve agir de acordo com o que considera ser sua obrigação moral - respondi. - Ninguém pode ser culpado por assim agir.
- Não mesmo? - o doutor ergueu uma sobrancelha, o que me pareceu sinal de desconfiança, como se imaginasse que eu estivesse a troçar. - Bem, imagino que o senhor esteja certo. Agora - ele se levantou e, ao mesmo tempo, a porta da biblioteca de abriu, revelando um babuíno em trajes de criado - o senhor por favor acompanhe meu mordomo até o quarto de hóspedes. Espero que não se incomode em dividi-lo com um outro náufrago, que veio dar à costa de Melissândia alguns dias atrás - o doutor sorriu, como quem pede perdão pelo incômodo. - Infelizmente, nem todos os aposentos do castelo encontram-se em ordem, no momento.
Apressei-me em garantir-lhe que não haveria incômodo algum e, pondo-me também em pé, despedi-me. Malcolm McMurdock informou-me de que o jantar seria servido às oito e, em seguida, separamo-nos.
* * *
Para minha feliz surpresa, o babuíno-mordomo era uma figura bastante quieta e pacífica. Assim como seus irmãos soldados, no entanto, andava curvado, provavelmente uma lembrança dos tempos de animal quadrúpede das savanas d'África.
Ele me conduziu por um corredor de rocha vulcânica, escura, mas iluminado por luzes elétricas - um feito considerável para tal data, 1878, neste tipo de Terra, se não me engano. A partir do corredor subimos um lance amplo de escadas e, dali, à direita, até uma pesada porta não de madeira, mas de rocha azul esculpida. O criado me deixou ali, sinalizando que eu deveria anunciar-me por meio da aldrava de bronze que pendia à altura dos olhos.
Fi-lo, sendo quase que imediatamente saudado por uma voz forte mas um tanto quanto familiar, vinda do outro lado da barreira rochosa:
- Entre!
Obedeci.
Dentro do quarto havia uma terrina com água, um espelho, duas camas de solteiro montadas uma sobre a outra, à maneira dos porões de navios, e um homem - um homem dotado de um semblante que era o meu.
Não apenas o semblante: a altura era a mesma, a construção do corpo, a cor dos olhos. Diferenciavam-nos apenas a cor dos cabelos (os dele haviam sido descoloridos, e apresentavam-se em uma tonalidade alourada), a tez mais morena, queimada de sol, e o fato de eu usar bigode e suíças enquanto que meu sósia trazia as fauces escanhoadas.
- Estava a esperar-te - disse-me o estranho, que apesar de estranho era-me tão familiar. - Demoraste! Mas, vamos, vamos. Que espanto é esse? Nunca antes encontraste, nos diversos mundos alternativos por onde estiveste, um de teus equivalentes?
Embaracei-me ao perceber como o espanto deveria estar traçado, em pinceladas vigorosas e evidentes, por todo meu semblante.
- Quem és? - perguntei.
- Agente especial Carter Crow, Departamento M. - Disse-mo. - Não que isso faça algum sentido para ti. Permita-me explicá-lo: represento, neste mundo, a autoridade equivalente à tua Marinha Etérea. Mas aqui, infelizmente, não temos o éter luminífero...
Claro! Num repente, tudo principiava a fazer sentido...
- Já o suspeitava... E os demais mundos do sistema solar são inabitados, estou certo? - perguntei.
- Exatamente.
- Não há selvas em Vênus...
- Nenhuma.
- Nem coleópteros, vespões e sapos gigantes nos anéis de Saturno, ou gafanhotos cósmicos no Cinturão de Asteróides? As serpentes flamejantes do Sol? Ou a delicada ecologia dos mares de rocha fundida, em Mercúrio? Ou o Princípio da Aceleração Infinita?
- Temo que não podemos nos gabar de nada disso. Mas temos a dualidade onda-partícula, o Mar de Dirac, bósons, neutrinos a Relatividade Geral e Restrita e, é claro, os táquions.
- O que usais no lugar do éter?
- A onda-guia Broglie-Bhom.
- Oh, certo. Vós viajais no tempo, e não no éter, é isso?
- Exatamente.
- E tu vens de quando para este ano de 1878, será do futuro?
- Precisamente. Como o deduziste?
- É por isso que me esperavas, está claro. Sabias exatamente quando e onde a película do flogístico seria rompida. E...
Passamos mais algum tempo assim, comparando notas e universos. O diálogo era rápido, às vezes monossilábico e, vezes ainda, silencioso, feito de gestos, olhares expressões. Nascidos em mundos diferentes, sob leis físicas e sociais diferentes; criados e educados em ambientes diversos, ainda assim éramos como que facetas diferentes de uma mesma pessoa e, unidos por algo muito mais poderoso e complexo que a tão propalada afinidade dos gêmeos idênticos, comunicávamo-nos com eficiência avassaladora.
Carter Crow aprendeu muito sobre a Marinha Etérea Imperial e sua missão de manter a Pax Terrana em todos os mundos do éter, além de enviar missões especiais de reconhecimento e exploração a mitosferas outras que, sabíamos, borbulhavam no fluir sempiterno do flogístico.
Quanto a mim, aprendi sobre a Intempol, a organização criada para manter a ordem e harmonia dentro do fluxo temporal da mitosfera em que me encontrava. Viagens no tempo eram um conceito fascinante para mim, mormente por se tratar de feito impensável nos universos do Éter.
Havia uma nota sinistra em tudo isso, não obstante. Pois, por mais maravilhamento que as informações de Crow me causassem, nossa conversa deixou-me com impressão de profunda tristeza: ficou claro, de uma vez por todas, que as leis físicas do universo onde me encontrava impedir-me-iam de reconstruir a Passarola III.
Inteira e íntegra, a nau era um fait acompli, uma singularidade neste mundo, algo que arrastava suas próprias leis físicas consigo, como a película atmostérmica carregava ar e calor; mas, uma vez destruída, dissipava-se, também a, chamemo-la, assim, "autorização cósmica" para sua existência.
Eu estava encalhado, naufragado num mundo onde até mesmo o simples processo de se refinar gás cavorítico a partir de rochas lunares seria uma impossibilidade, um verdadeiro absurdo. Mesmo se eu conseguisse recuperar a cabeça de Adamastor, ela conteria dados em desacordo com a ciência desta Terra. E a bolha de gás presa sob o manto mercuriano, na praia do outro lado da ilha, seria a única quantidade da substância a jamais existir sob este Sol.
Levei longos minutos a assimilar o choque. Mas, afinal, não havia eu optado por viver uma vida de aventuras? Não tinha sido a Passarola III como uma catapulta, a arremessar-me incontáveis vezes de encontro à morte, à emoção, à guerra, ao romance, ao desconhecido?
Lutar contra o impossível era meu meio de vida. Nada mais me restava, destarte, senão continuar a exercer aquele que me era o mais querido dos chamados.
E, se eu havia compreendido corretamente a saudação feita a mim por minha contraparte, era de se supor que Carter Crow estivesse esperando há algum tempo para partilhar sua aventura comigo. Como poderia eu recusar ajuda a mim mesmo?
- Tua presença aqui se relaciona diretamente à minha? - perguntei.
- De certa forma. Vês, foi-me dada uma missão a desempenhar que, estritamente falando, independe de ti, mas para a qual gostaria de contar com tua ajuda.
- E que missão seria essa?
- Impedir que a loucura do doutor McMurdock faça com que a jovem Melissa venha a conceber um filho a quem tenha, também, de chamar de irmão.
* * *
A simples idéia de que tal violência pudesse ser cometida contra a pobre criança que me salvara da fúria dos simiomens deixou-me agastado. Era claro que eu teria o dever moral de jogar minha sorte junto com a de Carter, e fazer-me útil dentro de qualquer plano que meu duplo viesse a elaborar. Lembrei-me, então, de que ele dissera que tinha estado a esperar minha chegada a esta Terra, antes de agir; perguntei-lhe o porquê.
- Eu gostaria de ter companhia ao me mover pelos corredores do castelo à noite, já que os homens-fera realizam patrulhas constantes - ele disse. - A despeito disso, porém, tenho um plano que requer que o doutor McMurdock esteja inconsciente. O homem tem uma queda pelas bebidas de espírito forte, mas normalmente se contém. Creio, no entanto, que tu poderias fazê-lo embriagar-se, e levá-lo a debaixo da mesa.
- E que tenho eu que fará o ignóbil doutor perder as estribeiras?
- Tuas histórias. - Disse-mo. - Tuas viagens.
- Também tu tens histórias a contar, pois não?
- Não como as tuas. Viajo no tempo, e isso ao doutor não interessa. Mas as tuas aventuras...
- Que há com elas?
- Já estiveste no Inferno, estou certo?
Sim, de fato. Eu já havia visitado pelo menos três mitosferas que se arrogavam tal nome, administradas por figuras de cascos e asas de morcego que se diziam chamar Mefistófeles, Lúcifer e Asmodeu. Carter Crow ouviu minha assertiva e se pôs, a partir de então, a explicar a estranha mitomania que governava a vida do doutor Malcolm McMurdock, homem de gênio colossal e juízo diminuto.
O doutor McMurdock havia trabalhado durante anos como assistente de outro grande médico e cientista, chamado Moreau, o criador original do processo que transforma fera em homem-fera: um processo doloroso, onde a criatura se via presa de agonias as mais atrozes.
McMurdock desenvolvera uma ligação doentia com seu mentor e, quando Moreau veio a falecer - vítima de seus próprios planos malignos - o então jovem doutor fizera do resgate da alma do vilão seu objetivo primeiro na vida.
Por algum tempo, ele se dedicara a amealhar a fortuna que, acreditava, seria necessária à conquista de tão extravagante objetivo. Casara-se, como é de bom-tom para o médico que pretende uma clientela ampla e respeitável; gerara uma filha. Dedicara-se, paralelamente, a uma vida de crimes grandiosos, escapando à justa punição graças ao uso de pseudônimos, esconderijos e criminosos de menor talento, como um certo James Moriarty que, nas palavras de Carter Crow, tinha herdado o comando da rede de malfeitores depois da partida de McMurdock para a ilha onde nos encontrávamos.
Ostensivamente, o médico tinha abraçado o auto-exílio motivado pela dor da morte da mulher; mas Carter me garantiu que, ao se ver de posse da riqueza que tanto desejava, o vilão não havia esperado por nada, cuidando pessoalmente para que o pretexto da viagem surgisse de imediato.
Carter Crow explicou-me que, na ilha, McMurdock havia criado uma nova geração de homens-fera, uma linhagem incapaz de repetir a rebelião que havia posto um fim à vida de Moreau. Uma vez cercado por seus leais simiomens e homens-cão, os canzarromens (que eu ainda não havia visto), o médico dera início à escavação na cratera vulcânica, em busca do reino dos condenados nas entranhas da Terra.
- Mas - objetei - é impossível chegar ao Inferno, ou a qualquer um dos
infernos, dessa forma.
- Eu o sei - respondeu-me Carter Crow. - Tu o sabes. Mas a mente de McMurdock é o palco de mais de uma distorção, mais de uma doença, mais de uma febre. Pensa: ele é um homem da ciência, da ciência positiva, um homem que crê que com um bisturi é possível saltar o abismo que existe entre animal e homem. A despeito disso, ele crê num Inferno, algo que para outros homens da mesma persuasão deve soar como coisa supersticiosa, primitiva, ultrapassada. Como o doutor concilia as duas coisas? Reduzindo-as uma à outra, traduzindo uma nos termos da outra. Assim, da mesma forma que um bisturi pode "dar alma" às feras, uma broca de aço e diamante pode abrir caminho ao Hades.
- Engenhoso - concedi. - Mas falso.
- Deveras. O próprio McMurdock está a se dar conta disso. O ataque à própria filha será um gesto de desespero; um crime chocante que, ele espera, abrir-lhe-á os portais do fogo e do enxofre. Pelos registros históricos, ocorrerá em dois dias.
Engoli em seco:
- Como se os crimes anteriores que me relataste não fossem suficientes para condená-lo!
- Ele os crê justificados. Mas, basta disso! Pretendes ajudar-me? É-me suficiente que o mantenhas entretido, no jantar, com contos de tuas viagens às regiões infernais. Faze-o beber; ergue brindes a Lúcifer, a Asmodeu! Quando os simiomens o arrastarem, inconsciente, para o quarto, saberei que minha oportunidade se faz presente. Depois, se quiseres, acompanha-me em minha tarefa.
- Ajudar-te-ei, fazendo o que me pedes - prometi.
* * *
O jantar em si foi composto de uma combinação suave e francamente irresistível de pratos frios - segundo o doutor McMurdock, não faria sentido preparar uma refeição quente em meio a uma estação tão abafada - e espíritos voláteis. À entrada foi-nos servido porto branco, milagrosamente resfriado, e todos os pratos surgiam da cozinha, trazidos por simiomens escrupulosamente vestidos, acompanhados de alguma beberagem alcoólica adequada. À sobremesa, foi-nos permitido optar entre porto tinto ou absinto.
Ocultar os próprios sentimentos e manter no rosto uma expressão sempre impassível ou, no máximo, agradável é parte da vida de todo diplomata ou aventureiro. Tal habilidade salvou-me a vida mais de uma vez, e desde meus primeiros anos na Marinha Etérea passei a ser visto, por colegas e superiores, como um mestre consumado. Não me lembro, deveras, de nenhum outro momento onde manter tal compostura tenha-me sido tão difícil quanto naquela noite, ao ver a menina Melissa sentada junto ao pai, à mesa de jantar.
A jovem trajava um vestido branco de noite, adequado à situação e que insinuava, sem vulgaridades desnecessárias, a curva já bem desenvolvida do busto, o contorno arredondado do quadril. Uma gargantilha de pérolas negras, em fino contraste com o pescoço de alabastro e os cabelos doirados, completava o quadro.
Já McMurdock, com sua horrenda corpulência mal-e-mal contida pelo colete cinza e casaca negra, assemelhava-se, em virtude da longa barba desgrenhada, a uma enorme tarântula, poisada sobre a carcaça de algum grande animal.
Era curioso como nem pai nem filha pareciam notar a extraordinária semelhança física entre Carter Crow e eu; parecia-me inacreditável que meu bigode e suíças pudessem disfarçar uma identidade tão evidente. Mas, talvez essa identidade fosse evidente apenas para as pessoas diretamente envolvidas, que sabiam partilhar o mesmo nicho espaço-temporal. Quem poderá afirmá-lo?
Estou a divagar, leitor; perdoa-me, imploro-te. Voltando à linha-mestra desta narrativa, dizia eu que, portanto, foi com dificuldade que sorri à mesa, e me fiz agradável ao anfitrião; mas foi com extrema boa-vontade que me entreguei à linha de conversação que Carter Crow mo havia sugerido. Falei, portanto, sobre as inúmeras viagens minhas às regiões infernais; eu não sabia quanto da tecnologia de meu mundo seria prudente desvelar mas, como já havia concluído que nesta Terra seria impossível sintetizar o gás cavorítico, atribuí a tal substância as propriedades mais maravilhosas: fiz dela meu deus ex machina, meu factótum, meu gênio engarrafado, varinha de condão.
A tudo McMurdock ouvia, transfigurado pela avidez da loucura que lhe ardia ao peito. Questionou-me longamente sobre as diferentes topografias infernais, sobre a confiabilidade dos relatórios do italiano Alighieri, do inglês Blake, do Árabe Louco. Contei-lhe de brindes, alegres e fictícios, que eu teria erguido à direita de Samael, Baphomet, Sirchade, Belial, Moloque, Maleduque, Lúcifer, Arimã, e pontuava cada relato com um novo brinde, de vinho, conhaque ou absinto, no qual o maligno doutor não hesitava em acompanhar-me.
A esta altura, a Melissa já se havia retirado da mesa, o que me trouxe grande alívio: não era saudável que ela ouvisse tais histórias; nem que visse o pai, bêbedo, desmoronar à mesa, bater com a cabeça no braço da grande cadeira senhorial em que estivera sentado e ser arrastado aos próprios aposentos, a fronte a sangrar, por macacos de luvas e libré que eram quase homens.
* * *
Mais tarde, na madrugada, Carter Crow e eu deixamos nosso quarto. Crow revelou-me que trazia consigo - num compartimento falso da coxa direita, parte de uma perna que, obviamente, não passava de uma prótese refinadíssima, oriunda do futuro - uma arma de energia luminosa. Ou um "lêiser", como o viajante do tempo preferia chamá-la.
- É um dispositivo de grande alcance e precisão - ele me explicava, entre sussurros, enquanto caminhávamos pelos corredores enegrecidos do castelo. - Poderia varar as paredes e a muralha deste edifício, deixando um vão perfeitamente redondo, do tamanho da cabeça de um alfinete, ou projetar uma mancha de luz, como um holofote, diretamente na superfície da Lua. Hoje...
Fiz-lhe um sinal para que se mantivesse em silêncio, e recuamos para debaixo de uma sombra junto à parede. Logo em seguida, uma patrulha de dois simiomens, cuja aproximação eu havia percebido por sobre as explicações de meu colega, surgiu.
Incontinênti, Carter Crow ativou sua estranha arma - em aparência, nada mais que um bastão cinzento, do tamanho aproximado do dedo médio de um homem adulto. Não ouvi som algum, e nada vi além de uma tênue espiral de fumaça que surgiu, repentina, no peito de um dos dois patrulheiros. No instante seguinte, o simiomem vomitava sangue, aos borbotões, e caía morto.
Talvez para não me sentir inferiorizado (ou, mais provavelmente, por sentir-me exatamente assim) não esperei que Crow usasse seu bastão luminífero no segundo patrulheiro, mas em vez disso tratei de atacar, com as mãos nuas, o simiomem restante.
Não foi difícil dominar a fera, aturdida que estava pela súbita e, para ela, inexplicável morte do companheiro. O simiomem com certeza teria mais força - e, possivelmente, velocidade - do que eu, mas menos experiência, e eu contava com a ajuda de Madame Surpresa, a mais doce das aliadas.
Também não me abstive de lutar sujo: dedos nos olhos, joelho à virilha e um golpe final, certeiro, na garganta, para bloquear de vez a respiração. A criatura caiu, desfalecida, antes mesmo de saber que era atacada.
Carter Crow postou-se ao meu lado e, sem dizer palavra, dirigiu seu raio ao crânio da fera abatida.
- Para garantir que nenhum alarme será dado - disse-me, depois.
* * *
Chegamos, por fim, às portas das câmaras íntimas do Grande Castelão, ocupadas pelo doutor Malcolm McMurdock. Para minha surpresa, Carter Crow não usou seu bastão energético na fechadura: em vez disso, atacou-a como um ladrão faria, usando pinças e outros instrumentos extraídos do mesmo compartimento secreto da perna artificial. A atitude me deixou intrigado, mas abstive-me de comentar.
Dentro, o doutor dormia. Dormia, e roncava, bêbedo demais para soar o alarme. E ferido demais, também: havia um curativo ensangüentado pousado sobre sua fonte. Tínhamo-no à nossa mercê!
E então Carter Crow passou a se comportar da forma mais extravagante possível, ao menos para mim: em vez de simplesmente usar sua arma energética para fazer explodir o coração do monstro ignóbil, assim como havia operado no simiomem que encontráramos no corredor, meu duplo se pôs a retirar as calças e as ceroulas de nossa vítima!
- Que prendes fazer? - perguntei, intrigado.
- Que lhe parece? Esterilizá-lo, oras! Esta arma pode ser calibrada para funcionar como bisturi, anestésico local e cicatrizador. O procedimento é simples e rápido, e mantém a energia viril intocada...
- Estás louco? Se queres operá-lo, capa-o de vez! Não estamos aqui para impedir que ele possua a própria filha?
- Não. Estamos aqui para impedir que a filha conceba. A Terra do futuro nunca ouviu falar em Morgan "Marauder" McMurdock, o gênio traidor que ensinou o kaiser Guilherme a partir o átomo, em 1916! Minha missão é garantir que as coisas continuem assim, e que o "Marauder" jamais venha a ter uma chance de existir sobre este mundo, percebes?
- E quanto à pobre Melissa? Ela será vítima de uma violência...
- Sabes o que aconteceria se a Intempol se dispusesse a prevenir todos s crimes, em todas as eras? Ora...
Senti a cólera apossar-se de mim. Foi apenas por meio de um exercício tremendo de autocontrole que me impedi a mim mesmo de gritar, mantendo a voz ao nível de um mero sussurro:
- Se não o matas tu, mato-o eu!
- Sabes que eu temia que dissesses algo do tipo?
Sem mais delongas, Carter Crow voltou a ponta mortífera de sua arma para minha direção e fez fogo, mirando bem entre meus olhos.
* * *
Acordei pela manhã, no quarto que o doutor havia designado para mim e meu duplo. Por alguns instantes senti-me surpreso por estar vivo, mas logo concluí que Carter Crow deveria ter usado uma freqüência especial de sua arma de luz, dirigida diretamente a meus olhos - uma freqüência que me sobrecarregou o nervo óptico e o cérebro, induzindo à inconsciência (e a uma razoável dor de cabeça).
Quanto ao próprio Carter Crow, ele não se encontrava presente, e por toda parte havia sinais de atividade acelerada, febril, provavelmente uma fuga: as roupas usadas no jantar de gala na noite anterior jaziam jogadas pelo chão (eu ainda envergava a casaca); a terrina de água estava virada de cabeça para baixo e o copo, quebrado; e a maior surpresa de todas: no chão, debaixo da cama, encontrei, semi-oculto, o bastão cinzento, a arma luminífera de meu suposto "amigo".
A descoberta fez-me exultar; mais, ainda, quando alguns testes, que realizei imitando o que vira Carter Crow fazer na madrugada, se me revelaram que o dispositivo mantinha-se funcional! Minha disposição era caminhar diretamente até o quarto do doutor, ou à mesa do desjejum, onde quer que ele estivesse, e fritar-lhe os miolos no mesmo instante!
Assim que saí ao corredor, no entanto, esta disposição foi posta em cheque pela figura que aguardava do lado de fora - a doce Melissa.
Ela era uma menina dedicada e apegada ao pai; quanto a isso não pode haver dúvida. Lembrei-me do período em que a jovem estivera conosco, no jantar da noite anterior, e da forma quase religiosa com que os límpidos olhos azuis e toda a face angelical se voltavam para o semblante maligno do vilão que se sentava à cabeceira da mesa; sem, no entanto, aí perceber vilania alguma.
Eu soube, naquele instante, que não poderia assassiná-lo. Não, ao menos, de forma direta, pois assim a doce Melissa viria a me detestar, e o pensamento era-me insuportável: o castigo do monstro teria, portanto, que parecer um acidente.
- O senhor Crow não vai se juntar a nós para o desjejum? - perguntou-me a menina.
- O senhor Crow, ao que parece, partiu antes do nascer do sol - respondi.
Ela sorriu. Idéia de um hóspede deixar a ilha sem que houvesse navio algum para transportá-lo não parecia perturbá-la. Eu mesmo desconhecia o meio usado por Carter Crow para retornar ao fluxo do tempo (para onde ele havia ido, com certeza: de alguma forma, eu sentia que era o único exemplar de mim mesmo presente na data), mas supus que se tratasse de algum dispositivo portátil, talvez contido na mesma perna artificial.
Ofereci meu braço à bela criança e ela o tomou, sorrindo; juntos, descemos para o salão onde tomaríamos o desjejum.
Encontramos McMurdock já sentado à mesa. Ele apresentava sinais evidentes de uma violenta ressaca, com os olhos vermelhos e as fauces inchadas. A despeito disso, recebeu-nos com um sorriso.
Sorri também. Desta vez, era um sorriso legítimo: tinha formulado um plano, e sabia exatamente como faria para matá-lo.
* * *
O fato de que minha morte viria a acompanhar a dele realmente não me preocupava: Eu estava, de qualquer forma, preso num mundo que me era totalmente desconhecido e impossibilitado, pelas próprias leis físicas deste estranho universo, de voltar para casa ou de retomar minha carreira de aventuras. Morrendo junto, ponderei, eu aumentaria as chances de tudo ser visto como um acidente, e assim a bela e doce Melissa, que ficaria sozinha neste estranho mundo, não teria motivos amaldiçoar minh'alma.
Iniciar o plano não foi difícil: bastou-me falar, à mesa do pequeno-almoço, sobre o gás cavorítico, retomando, de certa forma, as discussões do jantar. Falei, destarte, a respeito do bolsão de gás que, por minha fé, ainda estaria presente na praia do outro lado da ilha.
O doutor engoliu minha isca com anzol, linha e, creio, teria levado também o caniço. Concordei, fingindo certa relutância, em guiá-lo ao local. Em pouco menos de um quarto de hora, partimos.
No caminho, passamos pelas escavações que o doutor mantinha no grande vulcão que dominava o centro da ilha. Ali os simiomens eram impelidos a um trabalho cruel e incessante, dominados por uma outra casta de homens-fera - homens-cães - que manipulava o chicote com precisão e eficiência, ao mesmo tempo em que demonstrava grande liberalidade na distribuição de golpes e impropérios.
As grandes torres que eu tinha visto do ar, ao redor da cratera, sustentavam, algumas, pesadas brocas, do tipo usado em certos mundos para a prospecção de petróleo; outras, porém, davam apoio a esteiras mecânicas que retiravam rocha e detritos do fosso principal.
Nesse fosso, não havia brocas mecânicas - McMurdock explicou-me que as usava apenas para testar a composição das diversas camadas do solo - e todo o trabalho era feito por simiomens, cujas costas curvavam-se por outros motivos que não a mera lembrança do passado quadrúpede.
Os homens-cães eram irracionalmente ferozes: quando um simiomem caía, exausto, o feitor canino cobria-o com golpes do látego; se o trabalhador não se erguia, ou se o cheiro do sangue tirado pelo chicote mostrava-se mui forte, o canzarrão como que enlouquecia e, salivando profusamente, atacava o trabalhador a dentadas. A diversos dos simiomens que vi trabalhando faltavam dedos ou, em alguns poucos casos, uma mão inteira, ou um antebraço.
Paramos na escavação para que McMurdock pegasse, em seu laboratório, um tanque de aço, pressurizado, para conter o gás. O que vi, naquele lugar, só fez aumentar minha convicção de que tal homem não merecia viver; e, se ele queria ir ao inferno, eu teria prazer em lhe proporcionar os meios de entrada, embora não os de egresso.
Chegamos, finalmente, à área onde jazia o invólucro vazio do balão da Passarola III. O tecido de vesícula de polvo mercuriano, desinflado, assemelhava-se a uma paisagem toda feita de obsidiana, com a única diferença de que a suposta "rocha" era áspera, e não lisa, ao toque. A água do mar já começa a invadir a praia, rebaixada pelo peso colossal do invólucro vazio.
Logo divisei o pináculo que se erguia sem qualquer sustentação - mantido em posição ereta, eu estava certo, pelo glóbulo de gás cavorítico acumulado na ponta. No bolso da calça, eu carregava o bastão de energia luminífera deixado por Carter Crow. Em intensidade máxima, ele deveria ser capaz de puncionar a cobertura mercuriana.
- Prepara teu tanque de contenção - falei, enquanto nos aproximávamos de nosso destino. - Assim que deres o sinal, realizarei a punctura. O gás tende a subir, portanto posiciona-te de acordo... assim. Estás preparado, doutor?
- Sim - ele disse, e tal foi sua última palavra.
Tive de esgotar a fonte de energia do bastão, fosse qual fosse, antes que o gás começasse a fluir. O cavorítico é invisível e inodoro, e afirmar, como o fiz, que ele "tende a subir" é uma pobre maneira de descrever o comportamento de tão nobre substância. Que mais posso dizer? Trata-se de um gás antigravitacional ou, como preferem alguns, de massa negativa: cada molécula que a ele se combina torna-se imediatamente menos densa que o ambiente que a cerca.
Também tem um grande poder de penetração: são necessárias gigantescas câmaras de chumbo e granito para contê-lo, ou então a vesícula mercuriana.
A radiação do gás também é altamente energética, induzindo a elevações bruscas de temperatura o que quer que toque.
Tudo isso pude presenciar enquanto McMurdock, com um grito de dor, deixava cair o tanque de aço, inútil e que, aquecido ao rubro pela passagem do gás, queimara-lhe as mãos; enquanto os olhos do doutor velavam-se, como um filme de nitrato de prata exposto à luz do meio-dia, pelo poder das radiações; enquanto seus pulmões e artérias saíam-lhe pela boca, orelhas e narinas, enquanto seu sangue flutuava ao nosso redor em bolhas que eram como pequenos balões, enquanto o próprio diafragma se lhe era arrancado de dentro do tórax forçado garganta acima - tudo graças às propriedades antigravitacionais do gás que ele havia inalado.
Esta, então, foi a macabra morte de McMurdock.
Contemplei-a por longos instantes, até que caí em mim e me surpreendi por não estar partilhando do mesmo destino. Foi só então que ouvi a voz familiar às minhas costas:
- Temi que fizesses algo assim.
- Crow! - gritei, voltando-me.
- Temi que fizesses algo assim, por isso montei um gerador de película atmostérmica em tua casaca enquanto dormias - disse ele. - Não foi difícil: só tive que me esgueirar até o fosso onde é jogado o lixo do castelo, recuperar tua farda e extrair os componentes.
- Sabias da película?
- Fiz um estudo detalhado antes de entrar no caso. Sabes, uma das vantagens deste serviço é que... oras... temos muito tempo para nos preparar.
Sorri:
- Ah. Sim. Deveras.
- Agora, meu caro, digo-te que te meteste em palpos de aranha: alteraste a história de forma não-autorizada, introduziste material extradimensional no contínuo... mau, mau... Devo prender-te.
- Prender-me?! - exclamei, indignado.
Novamente, a luz vermelha à altura de meus olhos. E nada mais vi, até que acordei nesta cela, leitor, da onde este relato provavelmente jamais sairá - assim como eu.
Dizem-me que este local chama-se "Prisão dos Homens que Nunca Existiram", e é para onde são trazidos os náufragos das diferentes realidades. De certa forma, portanto, é onde eu deveria estar - de certa forma.
Tive tempo para pensar no comportamento de meu duplo, o senhor Carter Crow. Como não poderia deixar de ser, compreendo-o: valendo-se de minha pessoa da forma como o fez, ele conseguiu cumprir sua missão, punir Malcolm McMurdock e impedir que Melissa McMurdock sofresse a violência que ambos - estou certo de que ele partilhava de meus sentimentos nesse particular - temíamos.
Estou certo, também, que o bastão luminífero "esquecido" sob a cama foi deixado lá deliberadamente; mas a quem eu poderia prová-lo? E que bem isso me faria?
Afinal, estou preso, não morto. E, como diz o antigo clichê, enquanto há vida, caríssimo leitor, sempre há esperança.
Não estou disposto a me esquecer disso.

 Gerson Lodi-Ribeiro - Your fine novelette "Gentlemen of the Shade" (1988) about a Victorian group of vampires seems rather similar to Kim Newman's Anno Dracula (1992). In the same vein, the short story you wrote with Elaine O'Byrne, "Death in Vesunna" (1981) presents a provincial Roman acting as police chief in a small Third Century Roman village owns certain similarities to Lindsey Davis's series of novels about Roman investigator Marcus Didius Falco (first novel published in 1989). Even if in a tongue in cheek mode, did you ever think you could have somewhat "inspired" those two authors?
Gerson Lodi-Ribeiro - Your fine novelette "Gentlemen of the Shade" (1988) about a Victorian group of vampires seems rather similar to Kim Newman's Anno Dracula (1992). In the same vein, the short story you wrote with Elaine O'Byrne, "Death in Vesunna" (1981) presents a provincial Roman acting as police chief in a small Third Century Roman village owns certain similarities to Lindsey Davis's series of novels about Roman investigator Marcus Didius Falco (first novel published in 1989). Even if in a tongue in cheek mode, did you ever think you could have somewhat "inspired" those two authors?